O estudo realizado no Observatório de Bioeconomia da Fundação Getulio Vargas (FGV), intitulado “Bioenergia tropical e os dilemas da transição energética: neutralidade tecnológica e valorização global das soluções nacionais“, conduzido pelos pesquisadores Luciano Rodrigues, Angelo Costa Gurgel, José Guilherme de Oliveira Belon e Lucas Rodrigues, lança uma luz crítica sobre uma disputa silenciosa, porém decisiva, que ocorre nos bastidores da transição energética global: a questão sobre quais tecnologias e regiões irão liderar o processo de descarbonização.
No centro deste debate encontra-se a bioenergia tropical, uma tecnologia consolidada em países como o Brasil, mas que enfrenta um ceticismo sistemático e barreiras regulatórias em fóruns internacionais dominados por nações desenvolvidas. Esta resistência, frequentemente justificada por critérios ambientais de validade questionável, mascara uma competição econômica e tecnológica mais profunda, onde interesses comerciais e estratégicos se sobrepõem à eficácia climática.
O caso brasileiro é paradigmático. Com uma matriz de bioenergia que responde por cerca de 60% de toda a energia renovável consumida no país, o Brasil demonstrou a viabilidade de integrar em larga escala uma solução de baixo carbono. No entanto, este sucesso esbarra em um arcabouço regulatório internacional que, sob o pretexto do rigor ambiental, tende a privilegiar tecnologias nas quais os países centrais detêm vantagem competitiva, como a eletrificação veicular e os combustíveis sintéticos.
Uma análise crítica das principais regulamentações revela um padrão de assimetria. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em seu Regulamento de Emissões para Veículos uma métrica que considera apenas as emissões de escapamento (“tanque à roda”). Esta abordagem, intrinsecamente parcial, beneficia os veículos elétricos, deslocando artificialmente o problema da emissão para a geração de eletricidade, sendo frequentemente baseada em combustíveis fósseis em muitos países, e para a complexa etapa de produção das baterias.
Paralelamente, a Diretiva de Energias Renováveis da UE impõe limites rígidos aos biocombustíveis derivados de culturas alimentares, baseando-se no controverso conceito de Risco de Mudança Indireta do Uso da Terra (iLUC). A ciência por trás da iLUC, no entanto, é notoriamente incerta. Modelos econômicos utilizados para sua quantificação produzem estimativas com uma dispersão tão ampla que variam de valores negativos a níveis superiores aos dos combustíveis fósseis para um mesmo biocombustível, como o etanol de cana-de-açúcar. A aplicação seletiva deste critério – raramente estendida a outras tecnologias que também demandam terra, como hidrelétricas ou fazendas solares – expõe seu caráter arbitrário.
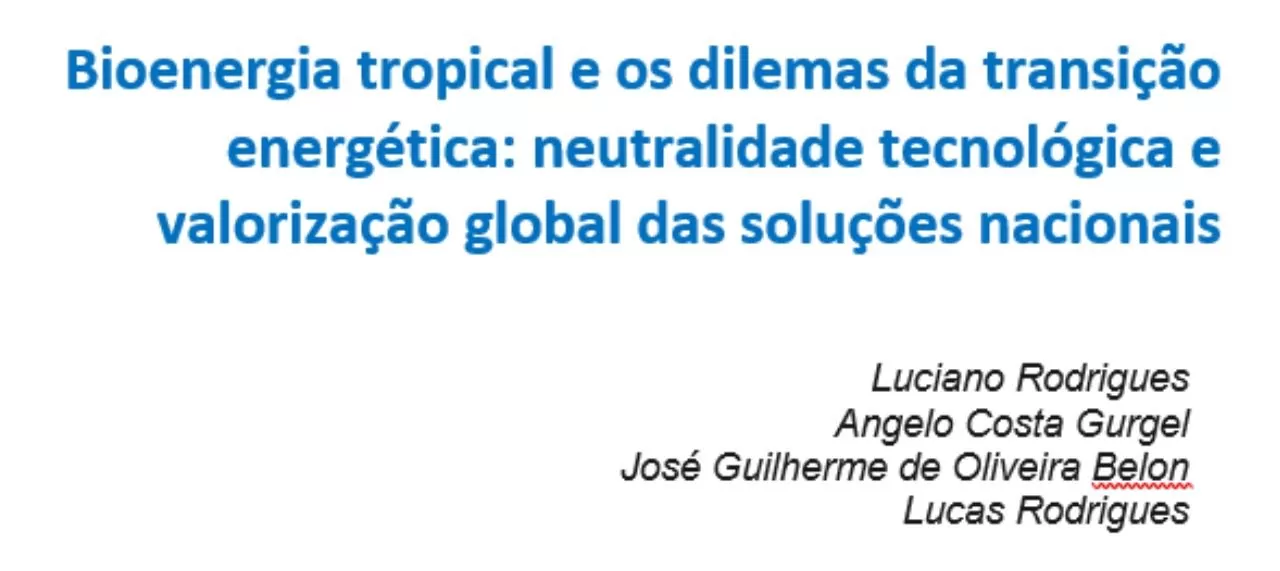
O mecanismo dos “multiplicadores” adotado pela UE é outro exemplo de distorção. A eletricidade no transporte rodoviário recebe um multiplicador de 4x para o cumprimento de metas, enquanto biocombustíveis avançados recebem 2x. Estes fatores, desprovidos de qualquer correspondência com reduções reais de emissões, criam um campo de jogo desigual, inflando artificialmente a contribuição de tecnologias preferenciais.
Nos Estados Unidos, o Renewable Fuel Standard (RFS) classifica o etanol de milho brasileiro na mesma categoria de baixo desempenho do etanol norte-americano, ignorando as distintas dinâmicas agrícolas, como o cultivo de segunda safra no Brasil. Recentemente, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) propôs que volumes importados de biocombustíveis gerem metade dos créditos (RINs) em relação ao produto doméstico equivalente, uma medida explicitamente protecionista que abandona qualquer retórica climática.
No setor de aviação, a iniciativa ReFuelEU da Europa exclui por definição os biocombustíveis convencionais de sua lista de Combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF), mesmo quando certificados como de baixo risco de iLUC. Esta exclusão regulatória, não física, impede que soluções comprovadas e imediatamente escaláveis contribuam para a descarbonização do setor.
Sistemas Integrados
A narrativa do conflito “alimentos versus combustível” tem sido um pilar das críticas à bioenergia. No entanto, uma revisão aprofundada da literatura demonstra que esta é uma simplificação grosseira da realidade. A segurança alimentar é um fenômeno multidimensional, influenciada primordialmente por fatores como desigualdade de renda, infraestrutura, instabilidade política e acesso a mercados, e não meramente pela destinação de terras.
Estudos que incorporam os efeitos econômicos mais amplos da produção de bioenergia frequentemente identificam impactos positivos. A geração de emprego, a dinamização de economias locais e o aumento da renda em áreas rurais podem, na verdade, melhorar a segurança alimentar de populações vulneráveis. A experiência brasileira com sistemas integrados, como a rotação de culturas (soja/milho) e a utilização de pastagens degradadas para expansão da cana-de-açúcar, evidencia que a produção de energia e alimentos pode ser complementar, e não excludente.
Biomobilidade Tropical
Quando submetida a uma avaliação objetiva e abrangente, baseada na Análise do Ciclo de Vida (ACV) “do berço ao túmulo”, a bioenergia tropical revela seu verdadeiro potencial. Dados consolidados de pesquisas demonstram que, no contexto brasileiro, um veículo flex-fuel abastecido integralmente com etanol hidratado (E100) emite aproximadamente 85 gramas de CO₂ equivalente por quilômetro rodado. Este valor é cerca de 2,7 vezes menor que o de um veículo similar utilizando gasolina pura.
Mais significativo ainda é o desempenho comparativo internacional. A frota nova de veículos no Brasil, composta em mais de 90% por motores a combustão (em sua maioria flex), apresentou em 2024 uma média de emissões de 151 g CO₂/km. Este desempenho é 31% superior ao da União Europeia (220 g CO₂/km), 34% melhor que o dos Estados Unidos (228 g CO₂/km) e 42% mais eficiente que o da China (259 g CO₂/km). Este último dado é particularmente revelador, uma vez que mesmo com os veículos elétricos e híbridos plug-in representando quase metade das vendas na China, a intensidade de carbono de sua matriz elétrica, dependente do carvão, anula grande parte do benefício climático.
Entre todas as rotas tecnológicas analisadas, as de menor emissão no ciclo de vida completo foram justamente os veículos movidos a etanol no Brasil e os veículos elétricos recarregados com a matriz limpa brasileira. Isto coloca a “biomobilidade” não como uma solução de transição, mas como uma opção de baixo carbono de alta eficiência e disponibilidade imediata.
Transição baseada em evidências
A mensagem que emerge desta análise é clara: a transição energética não pode ser sequestrada por um reducionismo tecnológico que elege “campeões” com base em interesses geopolíticos e econômicos. O caminho para uma descarbonização efetiva e justa exige neutralidade tecnológica, lastreada em métricas rigorosas, transparentes e completas de desempenho climático.
Os países desenvolvidos, responsáveis históricos pela maior parcela das emissões acumuladas, não podem impor um único modelo de transição, especialmente quando este desconsidera ou penaliza soluções eficazes e já consolidadas em nações em desenvolvimento. O futuro da mobilidade sustentável e da descarbonização como um todo será necessariamente plural.
Para o Brasil e outras regiões tropicais, a estratégia deve envolver uma diplomacia climática proativa, capaz de contestar critérios arbitrários e defender a valorização de soluções baseadas em suas vantagens comparativas naturais. Internamente, é crucial consolidar políticas como o RenovaBio e fomentar a próxima geração de biocombustíveis avançados. A bioenergia tropical, longe de ser uma mera promessa, é um ativo estratégico global. O seu pleno reconhecimento não é apenas uma questão de justiça climática, mas uma condição indispensável para se alcançar as metas de descarbonização global no tempo exigido pela ciência. A efetividade da luta contra as mudanças climáticas depende da capacidade de superar barreiras artificiais e abraçar todas as rotas viáveis, valorizando aquelas que já demonstram, na prática, sua capacidade de resposta.


